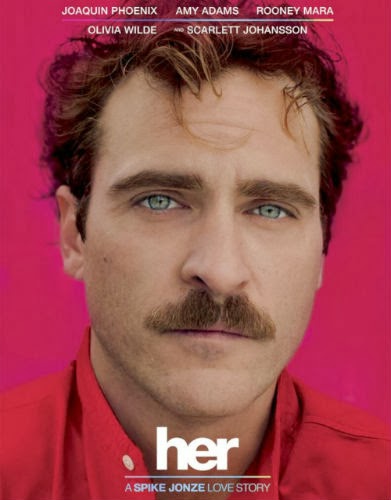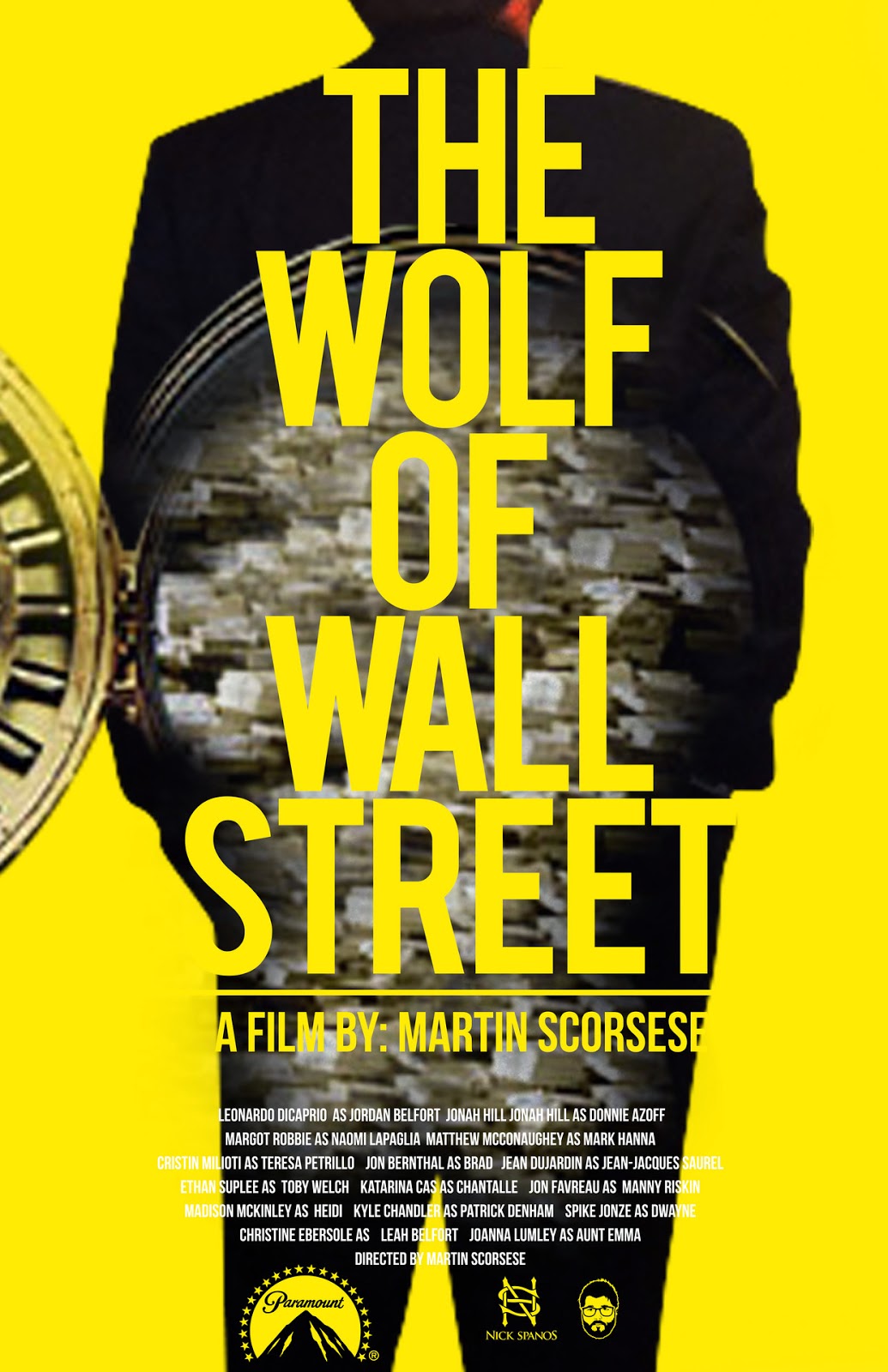Perdoem-me os conceituados críticos de plantão,
mas HER é muito mais (mas muito mais
mesmo!) do que “um filme de Spike Jonze que
cria um relacionamento ‘surpreendentemente possível’ entre homem e máquina”!
Ainda que o personagem Theodore Twombly, interpretado lindamente pelo magistral Joaquin Phoenix, realmente se apaixone por
um OS (sistema operacional), cuja bela voz rouca de mulher fora programada em
prévia triagem do OS sobre os seus desejos, a questão de ser ou não um software
dotado de inteligência artificial é única e tão somente uma parábola.
Do que Spike
Jonze (“Quero Ser John Malkovich”)
Pena que o filme esteja sendo definido como a
história da paixão de um homem pela voz de um sistema operacional... Esqueça a
coisa do sistema operacional!
Samantha, a bela voz de Scarlett Johansson pela qual Theodere se enamora e que nasce da
instalação de um software em seu smartphone, é, na verdade aquele Outro, para o
qual se olha naquele momento em que você tinha certeza de que jamais voltaria a
perceber ou se interessar por alguém.
Theodore sofre com o fim de
seu casamento e os encontros reais com mulheres de carne e osso não têm sido
frutíferos. Nem nos chats em salas de bate-papo o solitário homem consegue se
interessar por alguém.
Theodore trabalha numa
empresa chamada Cartas de Amor Escritas a Mão ponto com ou algo assim, e tem
como profissão escrever belíssimas cartas de amor para as pessoas.
Pela qualidade das cartas que escreve, podemos
ver que é dotado de sensibilidade e muita ternura, mas Theodore é uma espécie de Orpheu, que alivia as dores alheias, com
suas belas cartas de amor, mas não consegue encontrar remédio para suas
próprias dores.
 Encontramos o personagem nesse momento difícil,
com um trabalho bem inferior ao seu potencial, mergulhado em sofisticados jogos
de videogame, cheio de lembranças da esposa, com quem convivera desde muito
jovem e se recusando a assinar o divórcio. “Gosto
de estar casado”, diz ele a Samantha
quando começa a conversar com a inteligência artificial que logo se mostrará
uma deliciosa companheira.
Encontramos o personagem nesse momento difícil,
com um trabalho bem inferior ao seu potencial, mergulhado em sofisticados jogos
de videogame, cheio de lembranças da esposa, com quem convivera desde muito
jovem e se recusando a assinar o divórcio. “Gosto
de estar casado”, diz ele a Samantha
quando começa a conversar com a inteligência artificial que logo se mostrará
uma deliciosa companheira.
Samantha, de início, se
mostra de grande utilidade prática, pois consegue acessar rapidamente os
e-mails de Theodore e gerenciá-los,
apagando o que não tem utilidade, respondendo com perfeição os que devem ser
respondidos, ou seja, o relacionamento entre eles nasce do apoio, da ajuda e da
admiração que a eficiência dela gera nele.
A capacidade de interação de Samantha, muito mais do que um simples
robô sem corpo, vai atraindo para si Theodore
e, quando ele se dá conta, já sente necessidade do contato diário com a voz que
o compreende e passa a apoiá-lo também em seus assuntos emocionais,
percebendo-o em seus tons de voz, sua tristeza, alegria, desânimo... Sua
dores...
A curiosidade de Theodore sobre tamanha capacidade de Samantha leva-a informa-lo: "Eu evoluo a cada momento. Eu quero ser tão complicada quanto todas as
pessoas".
Samantha desbrava sua
própria existência através da interação com Theodore, e, aos poucos, admite seus pensamentos pessoais, inseguranças
e ciúmes, questionando se "esses
sentimentos são reais ou só programação?".
É a partir da interação entre ambos, que
mergulhamos de cabeça na história, ao tempo em que vislumbramos os nossos
próprios relacionamentos e passamos a sentir fortemente aquilo que o filme nos
desperta: paixão, ternura, poesia e uma infinidade de sentimentos outros, todos
ligados ao amor.
No filme há, certamente, algo voltado para os tempos
modernos, mas no sentido das relações virtuais (quem nunca?) e não
necessariamente da questão da inteligência artificial e do relacionamento com
uma máquina.
Evidencia-se o relacionar-se com alguém sem
corpo; as maiores angústias de Samantha,
inclusive, nascem do não ser corpo e, ainda que haja sexo entre ambos (numa belíssima
cena onde ele desperta nela o desejo nunca dantes sentido e ambos se entregam
um ao outro), a maior queixa de Samantha
é o “não ser corpo”.
Tanto que, a certa altura, Samantha convence Theodore
a receber em casa uma mulher que “empresta” o corpo para OSs. É interessante e
criativo o expediente, pois Samantha
vê através da câmera e gruda-se uma, bem pequena, no rosto da mulher,
colocando-se um fone de ouvido em ambos, a mulher e Theodore. Quem Theodore
ouve é a voz de Samantha.
Olha o nível da angústia do não poder tocar-se,
ser-se, dar-se!
O expediente não funciona; o que para Samantha parece natural, para Theodore é um sacrifício e a mulher,
embarcando nas carícias, acaba mexendo os lábios, a certa altura, o que lembra Theodore de que ela não é Samantha e nada chega a acontecer.
Apesar disto, Theodore, satisfeito, confidencia sobre sua relação para a amiga e
vizinha: “quando conversamos eu me sinto
próximo dela. Eu sinto que ela está comigo. Quando apagamos a luz durante a
noite, eu me sinto abraçado”.
Por não ter um corpo, Samantha compõe músicas para Theodore
ao piano. “Já que nós não podemos tirar
fotografia juntos, eu tento compor melodias que possam expressar nossos
momentos juntos”.
Os diálogos são riquíssimos e a voz rouca de Scarlett Johansson é muito mais que uma
voz e merecia a criação de um prêmio extraordinário do Oscar este ano: melhor
interpretação de voz!
É simplesmente fantástico o que ela consegue
fazer com aquela voz sob a batuta de Jonze
e, assim como para Theodore, Samantha assume formas corporais em
nosso imaginário.
Quando Theodore
diz a Samantha que ainda se lembra
da esposa e que conversa com ela mentalmente, lembrando-se das brigas que
tiveram e das coisas que disseram um ao outro, Samantha responde que compreende o que ele está dizendo, porque se
pegou lembrando-se do dia em que ele lhe dissera que ela “não sabia o que era perder alguém.”
Ele começa a lhe pedir desculpas pela mágoa que
lhe causara, mas Samantha lhe
responde: “está tudo bem! É só que me
pego pensando nisso de novo e de novo... E então percebo que estava só
lembrando de algo que estava errado comigo; era uma história que contava a mim
mesma, de que eu era inferior. Não é interessante? O passado é uma história que
nós contamos!”
É bela a sequência em que eles falam sobre a “fantasia
do amor” e ela o lembra de que a paixão é um estado de insanidade, “uma forma socialmente aceitável de insanidade”.
O casamento de Theodore terminara, segundo ele, quando o casal começou a mudar e
as mudanças aconteceram muito rápido, sem que deixassem de assustá-los um ao
outro. O crescimento do outro como fator de temor e assombro.
O relacionamento entre Theodore e Samantha
termina pelos mesmos motivos, ainda que guardadas as assombrosas proporções da ultra
veloz capacidade cibernética de Samantha.
O começo, meio e fim do relacionamento de Theodore e Samantha não é diferente dos nossos! Por isso, não se iludam que o
foco do filme seja o apaixonar-se por uma máquina, ou algo assim!
Não é!
HER é um belo conto de
amor humano. A forma como ambos constroem uma relação, a compreensão, o dar-se,
o desejar-se a partir do apoio mútuo, o amparo, o cuidado, o crescer...
Crescer que muitas vezes é difícil de ser
acompanhado pelo outro e traz em si a necessidade da partida, rumo a novas
descobertas, experiências, velocidades, paisagens... Não importa, um sempre
estará no outro.
Isso, inclusive, é dito por Samantha mais no
início do filme, num diálogo em que ele chega em casa e pergunta a ela o que
esteve fazendo.
Samantha diz que estivera lendo Física porque
achara interessante o quanto ficou brava quando ele foi se encontrar com Catherine
pessoalmente para assinar os papéis do divórcio, por ela ter um corpo. “Eu
fiquei chateada por tudo em que somos diferentes. Mas depois comecei a pensar
em tudo o que somos iguais. Por exemplo, somos todos feitos de matéria; isto me
faz sentir que estamos todos sobre o mesmo cobertor, macio e acolhedor; e tudo
abaixo dele tem a mesma idade: temos todos 13 bilhões de anos de idade”.
HER foi considerado o melhor filme pela National Board of Review. Spike
Jonze, também foi reconhecido pelo seu trabalho e levou um prêmio para
casa. Além de Phoenix e de Scarlett Johansson, ainda que só de passagem, Amy Adams também faz parte do
elenco.
Vencedor do Golden Globe de Melhor Roteiro, o filme
tem, também, uma trilha sonora linda e pertinente.
São treze músicas instrumentais do Arcade Fire, e o filme recebeu indicações
ao Oscar de Melhor Som e de Melhor Canção Original (William Butler e Owen Pallet devem receber o prêmio, por Song on the Beatch).
HER, que teve cinco indicações, também foi indicado
aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção de Arte, Melhor Roteiro Original.
A Academia pecou ao não indicar Joaquin Phoenix ao prêmio de Melhor
Ator.
Aqui o álbum completo do Arcade Fire que é a linda trilha sonora de HER pra você se
deleitar: https://www.dropbox.com/sh/181q1jbyb4iq8la/Nwz-AcpYQC